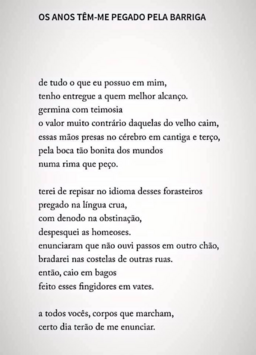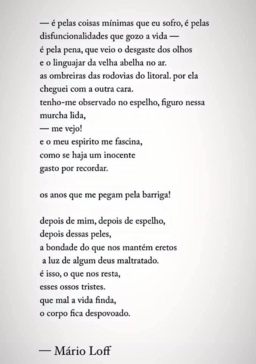Obrigada,
@Mercúcio. Nem preciso dizer que eu já tinha me esquecido, né?

Uma coisa fascinante sobre
Luuanda é que o livro foi elencado como um clássico da literatura angolana. É interessante ver essa dinâmica de um sistema literário que, embora tenha se firmado recentemente, já consiga apontar o grau de importância de uma obra para a continuidade do próprio sistema em que ela se insere. Acredito que podemos considerar
Luuanda como clássico na perspectiva de Ítalo Calvino, porque estamos diante de um "livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer".
E, sinceramente, não se trata de uma obra fácil de ler/escutar. A começar pelo primeiro conto: "A estória do ladrão e do papagaio" que, de início, nos brinda com uma polifonia radical, o que faz com que penemos para identificar o narrador. O texto mostra que se trata de um narrador de terceira pessoa. Esse narrador elege uma maneira de contar que nos coloca próximos ao que ele conta. Essa narrativa abusa da capacidade de romper com a escrita. Ela nos coloca diante de uma condição de existência textual na qual escrita e oralidade são tensionadas nas suas especificidades. A GRANDE PROTAGONISTA DA NARRATIVA É A FOME. O que une os três contos do livro é justamente a fome, a exclusão, a ruína, a destruição.
Em "A história do Ladrão e do Papagaio", Luandino está colocando lado a lado várias perspectivas, várias histórias, quase que na estrutura de "palabre" (Frantz Fanon -
Peles negras, máscaras brancas), para construir uma narrativa que expresse a diferença do que significa ser angolano. Para isso, o narrador se coloca em postura digressiva, mas não abre mão de ser a pessoa que articula as vozes, porque o desfecho da narrativa é este: "Juro me contaram assim". O narrador é um porta-voz, testemunha, alguém que reconta, não abre mão da posição de autoria, mas relativiza.
Os textos do Luandino tentam encenar a "palabre", isto é, a ideia de parlamentar, para resolver as questões. Ele busca uma enunciação que encene, em linguagem portuguesa escrita, o uso da palavra na língua angolana. O autor elabora, no processo da construção da mimesis que propõe, uma escrita que busca estabelecer uma relação com a oralidade. A relação é de luta, de tensão, porque traz para a página um modo de ser, uma subjetividade que, por ocasião do contexto de colonização, se constitui na exclusão. Essa narrativa se conforma em uma
maka, isto é, uma confusão que se estabelece, por meio de eventos do dia a dia. A matéria literária, nos contos de Luandino, resulta da junção das coisas mais triviais, mais corriqueiras, mais prosaicas, dos casos do dia a dia, do sujeito comum, dos espaços marginais, enfim.
É uma narrativa que tem um grau de melancolia imenso, porque nasce de uma violência grande, que está posta na sociedade colonial. O processo mimético dessa narrativa resulta do desejo do escritor de construir a identidade nesse próprio modelo, é SER NA ESCRITA, CONSTRUIR A IDENTIDADE NA ESCRITA, NÃO PELA ESCRITA. Trata-se da mimesis que produz a escrita, mas a escrita
em diferença. Aglutinam-se histórias, estabelecendo-se relações entre elas. A coisa, aqui, acaba por resvalar em Bakhtin, mesmo, e na ideia de que os textos vão se unindo para que a Literatura não se parta e não seja perdida.
Nesse sentido, é interessante perceber as interconexões que a narrativa estabelece com as várias vozes que se pretende colocar no discurso (projeto estético). Entretanto, não se trata de uma estrutura de encaixe (malz, aí, Todorov), porque quebra a sequência. Em cada uma das histórias, em cada um dos fios puxados, encontramos reflexões específicas a serem feitas, mas essas histórias meio que acontecem simultaneamente. Aí está a parte mais bonita da coisa (sim, gente, eu sou apaixonada por Literatura Africana, mesmo). Assim, traz-se para a malha literária os elementos constitutivos da tradição oral: experiência e memória.