Livros tiram a ferrugem da crítica e da história da literatura no Brasil
A crítica literária segue modas, sem nunca avaliar o mérito de teorias que são repetidas a torto e a direito. Essa é a avaliação de dois especialistas que acabam de lançar livros que buscam mexer nessa estrutura que vem juntando pó.Em “Duas Formações, Uma História”, o professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Luís Augusto Fischer reavalia pensadores importantes para buscar uma nova forma de fazer história da literatura.
Já o escritor, editor e pesquisador da USP Luiz Maurício Azevedo busca, em “Estética e Raça”, tornar visível o que foi invisibilizado e recuperar a historicidade da literatura negra com uma crítica à crítica literária brasileira.
A partir de uma revisita a dois pilares dos estudos de literatura no Brasil, Antonio Candido e Roberto Schwarz, objetos de escrutínio, Fischer puxa outros pensadores do campo, coloca de lado o nacionalismo que formou nossa história da literatura e recorre ao historiador Jorge Caldeira e ao antropólogo Eduardo Viveiros de Castro para propor um outro caminho.
“Continuamos pensando a história da literatura como se pensava desde que ela nasceu, entre os séculos 18 e 19”, diz Fischer, “no contexto da definição dos estados nacionais modernos, quando a literatura era uma linha auxiliar do nacionalismo.”
Para ele, é preciso antes de tudo se livrar do fantasma do nacionalismo, que, mesmo na melhor versão da história da literatura brasileira, como no caso de Candido, é o ponto a partir do qual tudo se organiza. Fischer não abre mão, porém, de um recorte nacional, que é, segundo ele, um entre outros recortes possíveis, mas que pode ajudar o encontro do leitor com nossa literatura, ao mostrar marcos de uma história nacional.
Ele chega então a uma história marcada por duas grandes forças, a que ele chama plantation e sertão. “Elas não são camisas de força, mas forças históricas que estão atuando, que dependem de ondas, de fluxos e refluxos”, diz.
A plantation tem como ponto zero a carta de Pero Vaz de Caminha e é marcadamente litorânea, escravista, latifundiária, monocultora e exportadora, já no sertão, o ponto zero é a tradição oral e é marcada pelo interior do país, pelas extensas redes de pequeno comércio, com diversos arranjos sociais e menor presença de escravos.
Ainda que nos anos 1980 e 1990 essa dualidade tenha se arrefecido, diz Fischer, as duas forças seguem em atuação. “Quem diria que ‘Torto Arado’ faria tanto sucesso hoje? E é um romance do sertão. Essa dualidade já foi mais forte, mas ainda há coisas estridentemente sertão ou plantation.”
A história proposta por Fischer não é composta de nomes e obras, ainda que ele aponte o ponto alto dessas duas matrizes históricas. Machado de Assis é o da plantation e Guimarães Rosa, o do sertão.
Ele diz se afastar da ideia de um cânone, já que sua preocupação é menos ter uma lista final de autores e mais entender o processo de constituição do cânone brasileiro. O esforço que vemos hoje para que autores que ficaram esquecidos pelo caminho sejam recolocados no lugar de destaque que mereceriam é visto por Fischer, porém, como menos revolucionário do que se pensa ser.
“Muitas vezes aconteceu isso de redefinir o passado em função do presente. Na Independência foi assim, eles olharam para trás e pensaram quem eram os escritores que deviam entrar. Não era a mesma coisa, mas era parecido, o presente relendo o passado e refazendo o cânone”, diz.
Luiz Maurício Azevedo defende que haja um cânone, ainda que diga acreditar que ele seja “só um cadáver que anda por aí”. “No Brasil as pessoas não sentem a pressão do cânone, porque elas nem sabem o que é cânone”. Para ele, a ideia é positiva na medida em que garante o mínimo que uma pessoa deva ler. “O cânone é o piso, é a coisa que todos vão ler, com a qual vamos começar os cursos, mas não é a relação máxima do brasileiro com a literatura”, diz.
Há, contudo, segundo Azevedo, um problema: “quem escolheu esses livros e se eles de fato representam um mosaico das experiências possíveis da literatura”. O olhar crítico brasileiro, que determina o que vai e o que fica, porém, é marcado por quem são os críticos.
“O pensador brasileiro é, via de regra, um homem branco, pretensamente heterossexual, que ocupa uma centralidade social na cultura brasileira, e ele arrasta para seu olhar crítico a maneira como enxerga o mundo, que contamina como enxerga a obra.” É bem verdade, diz Azevedo, que não existe esse olhar neutro, contudo, e aí mora o maior erro dos críticos, “eles colocam como neutralidade aquilo que não é neutralidade, mas compromisso com sua classe”.
Azevedo diz em seu livro que as produções literárias de autores negros “recebem um tratamento que ora é de vilipêndio ora é de adulação acrítica”. Para ele, a crítica tem por função apagar esses autores, para que o Brasil seja um país de autores homens brancos que, “acidentalmente, são parecidos com quem critica”. “É muito diferente fazer a crítica de um objeto que já é considerado, de saída, importante e fazer a crítica de um, de saída, desimportante”, diz.
Comparar o tratamento dado a dois autores pode mostrar como a diferença funciona. “Dizem que é preciso ler Carolina Maria de Jesus porque ela era uma catadora pobre, então o peso da biografia importa, mas quando falamos que Monteiro Lobato era racista aí dizem que devemos separar o autor da obra”, diz Azevedo. “Em Carolina não dissociamos a biografia da estética, mas no Lobato temos que? Por que não vale o mesmo critério para os dois autores?”
Assim, diz ele, estamos há 40 anos dizendo que Carolina precisa ser reconhecida pela crítica, discutindo sempre as mesmas questões, e não se conseguiu ainda que ela seja colocada sob o escopo real da crítica, pelo valor que seu trabalho de escrita tem.
Nega-se ao autor negro a arte e, assim, recusa-se a avaliação de seu livro pelo aspecto estético, e se instrumentaliza sua obra. “O grande argumento para se ler um bestseller negro é ‘esse livro é necessario’. Mas só usamos a instrumentalidade para a literatura negra, que é incentivada inclusive por pessoas que pretensamente estão defendendo essa literatura.” Sem dimensão estética, resta ao escritor negro apenas que se fale de suas vendas.
O caminho para a mudança, segundo Azevedo, é o da crítica levada a sério, que avalie os objetos literários a fundo, sem medo de dizer o que é boa literatura ou não. “Avaliamos bem os autores que dizemos que avaliamos bem ou construímos uma imensa máquina de reprodução de interpretações de pensadores nos quais confiávamos, como Antonio Candido e Roberto Schwarz, e assim fomos só reproduzindo?”, diz.
Para Fischer, o cenário vem da precariedade da vida universitária no Brasil, em que a discussão não é comum, ao contrário do egocentrismo. “As posições vão mudando de acordo com a moda acadêmica sem que avaliemos o mérito delas”, diz.
O fantasma do nacionalismo é um assombro também segundo Azevedo. “E se a literatura que consideramos importante for apenas ruim, e nós, a fórceps, dissemos que era boa porque queríamos edificar um país, porque queríamos ser tão grandes quanto outros e pegamos autores meias-bocas e dissemos que eram maravilhosos?”
Fonte: Folha de S. Paulo.
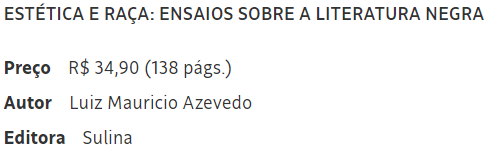
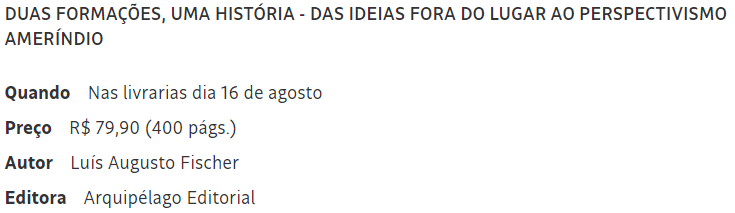
Sobre o livro do Fischer, saiu também uma entrevista no jornal Rascunho:
Para o professor e crítico literário Luís Augusto Fischer, as incontornáveis revoluções no campo da literatura, ocorridas nas últimas décadas, dão substrato para se pensar em um novo jeito de contar a história da literatura brasileira.
É o que ele se propõe em Duas formações, uma história — das ideias fora do lugar ao perspectivismo ameríndio, livro que a Arquipélago lança nesta segunda-feira (16). A obra é resultado da pesquisa de pós-doutorado de Fischer, realizada na Université Sorbonne Nouvelle — Paris 3, na França.
Ao longo das páginas, o autor reflete sobre os múltiplos elementos que atravessam o percurso literário do Brasil, desde nosso passado colonial até dilemas contemporâneos, como o livro digital, as redes sociais e o apego às metrópoles. Destaca ainda a importância da canção, da voz dos povos indígenas e do movimento feminista como fenômenos sociais e históricos que devem ser levados em conta nessa narrativa.
“Cada historiador e cada história, não apenas sobre o objeto literatura, interpretam o passado, encontram linhas de força”, diz. “Trata-se de reavaliar esse patrimônio, repropor interpretações.”
Com um repertório de 40 anos dedicados a escrever e ensinar sobre história da literatura, o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também propõe um olhar atento sobre uma efeméride que promete gerar debates em 2022: o centenário da Semana de Arte Moderna.
“Será uma ótima hora para debater esse legado, que merece muitos reparos: essa versão sugere que tudo de bom, de libertário, de inovador que se fez no Brasil no século 20 (e talvez até agora) dependeu do Modernismo paulista, o que transforma Mário e seus intérpretes em visionários, por um lado, e em juízes supremos, por outro”, diz. “No entanto há muitíssima literatura de primeiro nível que nada tem a ver com Mário ou a Semana.”
Um dos críticos acadêmicos que mais transitam fora da universidade, ele também comenta nesta entrevista as novas tendências da cena literária e os autores que a compõem.
• Seu livro é uma tese acadêmica que propõe uma “outra” maneira de olhar a história da literatura brasileira. Bem resumida, qual seria essa outra maneira?
Em fórmula ultrabreve, trata-se de pensar quais mudanças deve sofrer uma história da literatura produzida no Brasil de nossos dias tendo em vista duas imensas novidades: uma, o trabalho historiográfico e antropológico da última geração profissional universitária (que, por exemplo, destruiu as fantasias interpretativas de Caio Prado Júnior sobre o passado colonial brasileiro, fantasias que estão na base dos trabalhos de Candido, Schwarz e Bosi, e que, na Antropologia, apresentou interpretações de grande alcance e originalidade, como esta que atende pelo nome de “perspectivismo ameríndio”); outra, as incontornáveis revoluções no campo da literatura em si mesma (suporte digital de produção e circulação, a literatura como performance, incorporação da canção ao âmbito das letras, o surgimento de vozes novas criadas a partir da experiência negra, periférica, e indígena, etc.). Sem contar a voga de internacionalização da literatura e do pensamento, que impõe uma revisão do papel tanto da tradução na formação interna, quanto do fim de qualquer sonho nacionalista autonomista. Esse é a paisagem que o livro tenta desenhar.
• De Otto Maria Carpeaux a Lúcia Miguel Pereira, passando ainda por Wilson Martins, há vários relatos sobre a história literária brasileira. Eles dão conta de nossa tradição?
Cada historiador e cada história, não apenas sobre o objeto literatura, interpretam o passado, encontram linhas de força, etc. Esses três e tantos outros são momentos desse percurso, o percurso das histórias da literatura; agora, trata-se de reavaliar esse patrimônio, repropor interpretações, etc.
• Há muitas críticas em relação ao “encastelamento” da academia e seus professores, não apenas no âmbito da literatura. Seu livro está saindo por uma editora comercial, fora do circuito das editoras acadêmicas. Isso é uma maneira de levar discussões para além dos muros da universidade?
Pessoalmente sempre tive essa percepção, de que é preciso falar para fora dos muros. Mas nada contra os muros acadêmicos especificamente: ali também se produz inteligência. Esse meu livro tem a ver com isso: promovi vários seminários de pós-graduação, conversas intramuros, sobre o tema, e passei um ano estudando o assunto, num pós-doc, antes de chegar ao livro que agora vem ao mundo. Mas concordo com a insinuação da pergunta de que pode acontecer uma tendência de encastelamento, de falar apenas para os de dentro.
• No ano que vem, a Semana de Arte Moderna completa 100 anos. A obra daqueles autores — e a essência do evento — reverbera ainda hoje? Como?
Outra questão imensa… Sim, reverbera porque, em suma, a visão do modernismo paulista, especialmente na versão do Mário de Andrade e seguidores/intérpretes (como Sérgio Buarque de Holanda e Antonio Candido), é a que manda na visão mais difundida sobre história da literatura no Brasil. O que se pensa nas últimas décadas, na rotina das escolas, vestibulares, Enem, etc., sobre a literatura feita no Brasil é o que foi pensado, escrito e divulgado a partir desse núcleo, contando com a força da USP, com a conhecida história da literatura do Bosi e uma série de outros professores, críticos, pesquisadores. O centenário da Semana famosa será uma ótima hora para debater esse legado, que merece muitos reparos: essa versão sugere que tudo de bom, de libertário, de inovador que se fez no Brasil no século 20 (e talvez até agora) dependeu do Modernismo paulista, o que transforma Mário e seus intérpretes em visionários, por um lado, e em juízes supremos, por outro. No entanto, há muitíssima literatura de primeiro nível que nada tem a ver com Mário ou a Semana.
• Há um movimento — de autores e editoras, principalmente — que busca fazer uma revisão histórica da literatura brasileira, dando espaço a temas e segmentos antes marginalizados. Os prêmios literários, inclusive, têm aderido a esse novo momento… Como vê esse panorama?
Mencionei acima um pouco disso: não pelos prêmios em si, nem pelas feiras de prestígio ou pelas editoras mainstream, mas por um conjunto amplo de fenômenos literários, de um lado, e pela necessidade de atualizar o debate historiográfico em si — o que sabemos hoje sobre escravidão e sobre sua herança é absolutamente inédito, em mérito e em escala, assim como o que sabemos hoje sobre a vida ameríndia —, é mesmo necessário pensar de novo a história da literatura. Agora esse movimento que tu mencionas eu não enxergo. O que sim se pode ver é um empenho, elogiável, em por exemplo reeditar autores antes negligenciados, muitas vezes em função de debates do presente, como é o caso da Carolina Maria de Jesus, cuja obra é uma excelente interrogação para o leitor e o crítico. A melhor resposta ainda não foi dada, mas o tema está na ordem do dia.
• Por outro lado, há quem veja nessas iniciativas uma forma de limitar o alcance da literatura por meio de ideias como o “lugar de fala”…
Essa questão, do “lugar de fala”, não é unívoca. Há uma versão digamos doutrinária, que deve ser combatida criticamente, que vincula a história social do autor ao tema que ele aborda ou à forma que ele pratica, de modo exclusivo e excludente, o que é uma bobagem autoritária. Há outra versão, necessária e interessante, que manda prestar atenção à história social do autor, o que é prudente e mesmo há tempos levado em conta no campo da sociologia da cultura, ao menos desde Bourdieu. E há ainda outro viés, que me chama a atenção e é polêmico, que tem a ver diretamente com o campo da teoria da literatura: há pouco mais de cem anos se constituiu o campo da teoria da literatura, e uma das premissas, ou das postulações, daquele momento, mandava separar a obra de seu autor — era para evitar o que se chamava, pejorativamente e com razão, de “biografismo”, como aquele praticado venenosamente por Sílvio Romero, que afirmou que Machado pontuava mal porque era gago. Muita gente boa praticava esse biografismo — lembro da biografia do Machado feita pela Lúcia Miguel Pereira, dos anos 1930, em que ela mencionava os “espevitamentos de mestiço” que o escritor Machado de Assis teria sabido evitar e por isso teria se transformado em bom escritor. A teoria da literatura se definiu contra esse vínculo. Se pensarmos bem, Adorno representa em escala superior essa ideia de negação do valor do autor como parâmetro para ler a obra dele — a ideia adorniana da “objetividade da forma” depende dessa negação. Os pós-estruturalistas falaram até da “morte do autor”. E passamos umas quantas décadas erguendo teoria contra a biografia. Pois agora uma das faces do discurso do “lugar de fala” reivindica que se vincule a obra, até para conferir valor a ela, mediante consideração da origem social do autor, da pessoa do escritor. Um excesso, é claro, mas um excesso interessante para pensar a coisa toda.
• Você é um crítico que acompanha de perto a cena literária contemporânea. O que há de melhor e pior nela?
Eita, não me arrisco a tanto. Evito ler o que há de ruim, embora de vez em quando cruze com textos assim. Sobre o melhor: há uma geração madura produzindo regularmente grande narrativa, Bernardo Carvalho, Fernando Bonassi, Luiz Ruffato, Alberto Mussa, Rubens Figueiredo, Lourenço Mutarelli, Beatriz Bracher, os mais velhos Chico Buarque, Cristovão Tezza, Milton Hatoum, Paulo Henriques Britto, os mais novos Paulo Scott, Marcelino Freire, Daniel Galera, enfim muita gente, e agora apareceu uma turma nova, de grande vigor, Jeferson Tenório, Natalia Borges Polesso, José Falero, Itamar Vieira Jr., Lília Guerra, Julián Fuks, Marcelo Labes. Enfim: muita gente, que citei aqui apenas no fluxo da lembrança, o que mostra claramente uma força substantiva da narrativa em nosso tempo, no Brasil. Não falo de poesia, nem de crônica, nem de teatro, que também têm o que dizer. Vivemos um tempo muito pródigo em produção literária!
É o que ele se propõe em Duas formações, uma história — das ideias fora do lugar ao perspectivismo ameríndio, livro que a Arquipélago lança nesta segunda-feira (16). A obra é resultado da pesquisa de pós-doutorado de Fischer, realizada na Université Sorbonne Nouvelle — Paris 3, na França.
Ao longo das páginas, o autor reflete sobre os múltiplos elementos que atravessam o percurso literário do Brasil, desde nosso passado colonial até dilemas contemporâneos, como o livro digital, as redes sociais e o apego às metrópoles. Destaca ainda a importância da canção, da voz dos povos indígenas e do movimento feminista como fenômenos sociais e históricos que devem ser levados em conta nessa narrativa.
“Cada historiador e cada história, não apenas sobre o objeto literatura, interpretam o passado, encontram linhas de força”, diz. “Trata-se de reavaliar esse patrimônio, repropor interpretações.”
Com um repertório de 40 anos dedicados a escrever e ensinar sobre história da literatura, o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também propõe um olhar atento sobre uma efeméride que promete gerar debates em 2022: o centenário da Semana de Arte Moderna.
“Será uma ótima hora para debater esse legado, que merece muitos reparos: essa versão sugere que tudo de bom, de libertário, de inovador que se fez no Brasil no século 20 (e talvez até agora) dependeu do Modernismo paulista, o que transforma Mário e seus intérpretes em visionários, por um lado, e em juízes supremos, por outro”, diz. “No entanto há muitíssima literatura de primeiro nível que nada tem a ver com Mário ou a Semana.”
Um dos críticos acadêmicos que mais transitam fora da universidade, ele também comenta nesta entrevista as novas tendências da cena literária e os autores que a compõem.
• Seu livro é uma tese acadêmica que propõe uma “outra” maneira de olhar a história da literatura brasileira. Bem resumida, qual seria essa outra maneira?
Em fórmula ultrabreve, trata-se de pensar quais mudanças deve sofrer uma história da literatura produzida no Brasil de nossos dias tendo em vista duas imensas novidades: uma, o trabalho historiográfico e antropológico da última geração profissional universitária (que, por exemplo, destruiu as fantasias interpretativas de Caio Prado Júnior sobre o passado colonial brasileiro, fantasias que estão na base dos trabalhos de Candido, Schwarz e Bosi, e que, na Antropologia, apresentou interpretações de grande alcance e originalidade, como esta que atende pelo nome de “perspectivismo ameríndio”); outra, as incontornáveis revoluções no campo da literatura em si mesma (suporte digital de produção e circulação, a literatura como performance, incorporação da canção ao âmbito das letras, o surgimento de vozes novas criadas a partir da experiência negra, periférica, e indígena, etc.). Sem contar a voga de internacionalização da literatura e do pensamento, que impõe uma revisão do papel tanto da tradução na formação interna, quanto do fim de qualquer sonho nacionalista autonomista. Esse é a paisagem que o livro tenta desenhar.
• De Otto Maria Carpeaux a Lúcia Miguel Pereira, passando ainda por Wilson Martins, há vários relatos sobre a história literária brasileira. Eles dão conta de nossa tradição?
Cada historiador e cada história, não apenas sobre o objeto literatura, interpretam o passado, encontram linhas de força, etc. Esses três e tantos outros são momentos desse percurso, o percurso das histórias da literatura; agora, trata-se de reavaliar esse patrimônio, repropor interpretações, etc.
• Há muitas críticas em relação ao “encastelamento” da academia e seus professores, não apenas no âmbito da literatura. Seu livro está saindo por uma editora comercial, fora do circuito das editoras acadêmicas. Isso é uma maneira de levar discussões para além dos muros da universidade?
Pessoalmente sempre tive essa percepção, de que é preciso falar para fora dos muros. Mas nada contra os muros acadêmicos especificamente: ali também se produz inteligência. Esse meu livro tem a ver com isso: promovi vários seminários de pós-graduação, conversas intramuros, sobre o tema, e passei um ano estudando o assunto, num pós-doc, antes de chegar ao livro que agora vem ao mundo. Mas concordo com a insinuação da pergunta de que pode acontecer uma tendência de encastelamento, de falar apenas para os de dentro.
• No ano que vem, a Semana de Arte Moderna completa 100 anos. A obra daqueles autores — e a essência do evento — reverbera ainda hoje? Como?
Outra questão imensa… Sim, reverbera porque, em suma, a visão do modernismo paulista, especialmente na versão do Mário de Andrade e seguidores/intérpretes (como Sérgio Buarque de Holanda e Antonio Candido), é a que manda na visão mais difundida sobre história da literatura no Brasil. O que se pensa nas últimas décadas, na rotina das escolas, vestibulares, Enem, etc., sobre a literatura feita no Brasil é o que foi pensado, escrito e divulgado a partir desse núcleo, contando com a força da USP, com a conhecida história da literatura do Bosi e uma série de outros professores, críticos, pesquisadores. O centenário da Semana famosa será uma ótima hora para debater esse legado, que merece muitos reparos: essa versão sugere que tudo de bom, de libertário, de inovador que se fez no Brasil no século 20 (e talvez até agora) dependeu do Modernismo paulista, o que transforma Mário e seus intérpretes em visionários, por um lado, e em juízes supremos, por outro. No entanto, há muitíssima literatura de primeiro nível que nada tem a ver com Mário ou a Semana.
• Há um movimento — de autores e editoras, principalmente — que busca fazer uma revisão histórica da literatura brasileira, dando espaço a temas e segmentos antes marginalizados. Os prêmios literários, inclusive, têm aderido a esse novo momento… Como vê esse panorama?
Mencionei acima um pouco disso: não pelos prêmios em si, nem pelas feiras de prestígio ou pelas editoras mainstream, mas por um conjunto amplo de fenômenos literários, de um lado, e pela necessidade de atualizar o debate historiográfico em si — o que sabemos hoje sobre escravidão e sobre sua herança é absolutamente inédito, em mérito e em escala, assim como o que sabemos hoje sobre a vida ameríndia —, é mesmo necessário pensar de novo a história da literatura. Agora esse movimento que tu mencionas eu não enxergo. O que sim se pode ver é um empenho, elogiável, em por exemplo reeditar autores antes negligenciados, muitas vezes em função de debates do presente, como é o caso da Carolina Maria de Jesus, cuja obra é uma excelente interrogação para o leitor e o crítico. A melhor resposta ainda não foi dada, mas o tema está na ordem do dia.
• Por outro lado, há quem veja nessas iniciativas uma forma de limitar o alcance da literatura por meio de ideias como o “lugar de fala”…
Essa questão, do “lugar de fala”, não é unívoca. Há uma versão digamos doutrinária, que deve ser combatida criticamente, que vincula a história social do autor ao tema que ele aborda ou à forma que ele pratica, de modo exclusivo e excludente, o que é uma bobagem autoritária. Há outra versão, necessária e interessante, que manda prestar atenção à história social do autor, o que é prudente e mesmo há tempos levado em conta no campo da sociologia da cultura, ao menos desde Bourdieu. E há ainda outro viés, que me chama a atenção e é polêmico, que tem a ver diretamente com o campo da teoria da literatura: há pouco mais de cem anos se constituiu o campo da teoria da literatura, e uma das premissas, ou das postulações, daquele momento, mandava separar a obra de seu autor — era para evitar o que se chamava, pejorativamente e com razão, de “biografismo”, como aquele praticado venenosamente por Sílvio Romero, que afirmou que Machado pontuava mal porque era gago. Muita gente boa praticava esse biografismo — lembro da biografia do Machado feita pela Lúcia Miguel Pereira, dos anos 1930, em que ela mencionava os “espevitamentos de mestiço” que o escritor Machado de Assis teria sabido evitar e por isso teria se transformado em bom escritor. A teoria da literatura se definiu contra esse vínculo. Se pensarmos bem, Adorno representa em escala superior essa ideia de negação do valor do autor como parâmetro para ler a obra dele — a ideia adorniana da “objetividade da forma” depende dessa negação. Os pós-estruturalistas falaram até da “morte do autor”. E passamos umas quantas décadas erguendo teoria contra a biografia. Pois agora uma das faces do discurso do “lugar de fala” reivindica que se vincule a obra, até para conferir valor a ela, mediante consideração da origem social do autor, da pessoa do escritor. Um excesso, é claro, mas um excesso interessante para pensar a coisa toda.
• Você é um crítico que acompanha de perto a cena literária contemporânea. O que há de melhor e pior nela?
Eita, não me arrisco a tanto. Evito ler o que há de ruim, embora de vez em quando cruze com textos assim. Sobre o melhor: há uma geração madura produzindo regularmente grande narrativa, Bernardo Carvalho, Fernando Bonassi, Luiz Ruffato, Alberto Mussa, Rubens Figueiredo, Lourenço Mutarelli, Beatriz Bracher, os mais velhos Chico Buarque, Cristovão Tezza, Milton Hatoum, Paulo Henriques Britto, os mais novos Paulo Scott, Marcelino Freire, Daniel Galera, enfim muita gente, e agora apareceu uma turma nova, de grande vigor, Jeferson Tenório, Natalia Borges Polesso, José Falero, Itamar Vieira Jr., Lília Guerra, Julián Fuks, Marcelo Labes. Enfim: muita gente, que citei aqui apenas no fluxo da lembrança, o que mostra claramente uma força substantiva da narrativa em nosso tempo, no Brasil. Não falo de poesia, nem de crônica, nem de teatro, que também têm o que dizer. Vivemos um tempo muito pródigo em produção literária!

