Bruce Torres
Let's be alone together.
Literatura sem missão — ou os embates da escrita entre dois Millers: Arthur e Henry
20 abril 2016, 11:31 am
Por Luiz Schwarcz

Lee J. Cobb, Arthur Kennedy e Mildred Dunnock na montagem de A morte de um caixeiro-viajante, de Arthur Miller, em 1949. Crédito: Shields Collection.
A frase “Escrever (ou o Teatro) vai salvar o mundo”, atribuída a Arthur Miller, não me sai da cabeça. No momento, estou lendo uma biografia de Miller para saber o contexto em que ela foi dita, e como, algum tempo depois, o grande teatrólogo americano a teria renegado, ou melhor, se mostrado mais descrente com relação a ela. Quem sabe ao chegar ao final desta crônica terei mais respostas, ou ao menos indícios.
Enquanto isso, lembro-me de outra questão, bem mais simples, que me foi colocada há muitos anos por um jornalista, do qual já não lembro mais o nome. O grande fenômeno editorial na ocasião eram os livros de autoajuda de Lair Ribeiro, autor que veio depois de Paulo Coelho e causou um novo estouro de vendas nas livrarias. Fui então selecionado pelo jornalista como a voz naturalmente contrária a esse tipo de livro na versão “made in Brazil”. Surpreendi meu entrevistador, porém, recusando-me a desempenhar tal papel.
Também não sou um defensor radical da frase de Monteiro Lobato que afirma “todo livro lido é um bom livro”. São compreensíveis as razões de Lobato, que a proferiu num contexto em que as editoras lutavam, ainda mais do que hoje, contra o analfabetismo e o desconhecimento da população com relação ao valor da leitura. No entanto, levada ao extremo, essa definição tira do leitor a capacidade de julgar, de não gostar do que leu, de contrapor suas ideias às do autor, de alocar sua fantasia no lugar de outra. Como disse são compreensíveis as razões de Lobato, mas a sua frase deve ser enunciada com cuidado, sem perder o senso crítico.
De toda maneira, ao ser perguntado se era contra livros de autoajuda, afirmei sem pestanejar, não! Emendei dizendo que, em minha opinião, todo livro é no fundo um livro de autoajuda. De Drummond a Lair Ribeiro, todos os livros lidos, mesmo que não necessariamente bons, são de autoajuda. Apenas possuem pretensões diferentes. Alguns desejam mudar o mundo e os seus leitores rapidamente, outros lentamente. E há os que nem pretendem mudar nada, mas talvez sejam os mais bem-sucedidos nesse quesito. Por vezes são os que têm maior influência no ser humano e na vida social — os textos escritos como se o escritor fosse um Jonas vivendo dentro da baleia, sem espectro ou pretensão de ação social possível.
A missão de um livro de autoajuda seria de muito mais curto prazo do que um livro de literatura sofisticada; a voz do autor desses livros vem imbuída de mais autoridade e pretensão. Mas isso não basta para caracterizar esses trabalhos como bons ou ruins, assim como a frase de Lobato tira do verdadeiro juiz seu poder de julgamento. Quem decide se um livro é bom ou ruim, em primeira e última instância, é o leitor; sendo o crítico literário apenas um leitor que em princípio milita na mesma área que o autor — estudou literatura ou jornalismo, e por isso atua em espaços públicos de leitura. Podemos opinar sobre a perenidade de um livro e assim qualificar como mais importantes aqueles que ficam em nossas mentes por um tempo maior, mas não julgar sua qualidade no lugar do leitor(a).
Quanto à literatura com missão política ou de engajamento, aquela que sai da cabeça do escritor com a vontade explícita de mudar o mundo a curto prazo, dedico a ela um bom punhado de dúvidas. Não creio que as grandes peças ou contos de Arthur Miller tenham sido escritos com esse fim imediato. A frase teria sido do começo de sua carreira, e traz um compromisso tanto social quanto moral. Segundo ele, o teatro teria mais capacidade de salvar a sociedade do que a medicina — uma vez que coloca questões morais fundamentais e, assim, promove futuras mudanças sociais. O teatrólogo americano, filho de imigrantes judeus, foi marxista e militante durante parte de sua carreira, mesmo sem ter se filiado a partidos políticos. No entanto, suas grandes obras não eram de puro proselitismo. Ultrapassavam em muito esse propósito. O pai de Arthur Miller era analfabeto e foi abandonado pela família na Europa dos pogroms, tendo chegado à América depois de todos os irmãos. Mesmo assim, conseguiu enriquecer, para depois perder tudo, com a grande depressão. Nunca leu sequer uma carta do filho. Talvez por isso Miller acreditava tanto na magia do palco, da interação entre o espectador e os atores. Dizia que “o peixe está na água, mas a água está no peixe” e devotava ao momento da representação uma crença tão forte quanto às mudanças que julgava ideais para a sociedade. Em uma entrevista dada à New Yorker em 1999, seis anos antes de falecer, num momento que já renegava ou relativizava a famosa frase que inicia esta crônica, ele relata que Willy Loman — o caixeiro-viajante que com o tempo não consegue vender mais nada e acaba se suicidando — não teria sido inspirado em um tio seu, ou em seu pai, como se costumava dizer. Mas é difícil de acreditar. Os dois perderam tudo com o crack da bolsa de Nova York e foram obrigados a se mudar de Manhattan para o Brooklyn, onde Miller passou parte da infância.
A obra de Miller sem dúvida foi muito afetada por sua relação com o pai, assim como pelos eventos familiares. Na entrevista Miller despista, dizendo que para criar Loman teria se baseado em um amigo, Manny Newman, um sonhador que sempre acabava perdendo, tendo seus “dedos constantemente pisados pela engrenagem social”. O amigo que acabou se suicidando pode ter feito parte do caldo que criou o personagem na cabeça de Miller, mas não foi sua única inspiração. Na mesma entrevista o escritor se lembra de um empresário da Filadélfia, Bernard Gimbel, que, tendo estado na estreia de A morte de um caixeiro-viajante, de lá saiu e, dias depois, proibiu que pessoas fossem demitidas de suas lojas em razão da idade.
Será que essa pequena atitude poderia contar a favor da frase que inicia meu texto? Teria Miller — já num período de descrença com a militância de esquerda — achado que por conta de atitudes como a de Gimbel, A morte de um caixeiro-viajante de fato teria mudado o mundo? O mundo de alguns, ao menos, mesmo que não o de todos?
Hoje me pergunto se a arte — por ter retratado a humanidade, com suas grandezas e suas vilanias, durante séculos — não poderia ser considerada como uma das mães dos movimentos sociais? Seria a luta de hoje por direitos humanos a mesma sem a representação que o ser humano fez de si próprio através dos tempos? Sem defender a pretensão revolucionária da arte, pergunto-me: de quantos encontros como o de Willy Loman com Bernard Gimbel se fez a história do teatro? A crença em si ou a vontade de mudar o mundo não prejudicam a literatura, desde que o autor não pense em resultados imediatos. Desde que a realização da obra ganhe total independência formal e de conteúdo em relação a propósitos políticos ou sociais. Boas intenções não resultam necessariamente em bons livros. Em muitos casos chegam a atrapalhar.
George Orwell, um escritor tão engajado quanto polêmico, tratou muito dessas questões em seus ensaios. Disse que toda arte é propaganda, que nunca sentou para escrever um livro sem que existisse, como fonte de inspiração, uma mentira que quisesse desvendar. No entanto, reafirmou que sem a experiência estética nada do que desejava fazer teria adquirido qualquer sentido. Orwell afirmou diversas vezes que ao escrever era obrigado a abandonar o foco inicial de seu trabalho e se alongar em assuntos politicamente irrelevantes. E que suas obras eram feitas em igual medida do que queria desvendar e dos aspectos menores que apareciam no meio do caminho.
O escritor de A revolução dos bichos realizou grandes ensaios, elogiando autores completamente diferentes dele. Admirava profundamente o primeiro livro de Henry Miller, Trópico de câncer, que teria sido escrito sem propósito político algum, apenas para retratar “parasitas americanos mendigando tragos no Quartier Latin”. Dizia que a força de Miller, ou de Joyce, vinha do não engajamento desses grandes narradores. Por conta disso é que os dois conseguiram retratar tão bem o homem comum. Henry Miller, segundo Orwell, era um pacifista radical, um militante do não engajamento. Foi um Jonas que se beneficiou por estar dentro da baleia. Aldous Huxley se queixava dos escritores e artistas que se refugiavam dessa forma. Achava a barriga da baleia um lugar triste e perigoso. Orwell, que optou sempre por lutar contra baleias invencíveis, argumentou que Joyce e Henry Miller fizeram obras maiores, claramente optando por não militar politicamente. São autores que, segundo Orwell, produziram sem medo. Um dado fundamental, segundo ele, para realizar um grande livro.
É curioso o sincero elogio de Orwell a escritores com ideais e princípios que ele mesmo considerava abomináveis. Para Orwell, Jonathan Swift, assim como Edgar Allan Poe em menor medida, seriam pessoas cujas visões de mundo podiam ser absurdas e falsas. Algumas narrativas de Poe, por exemplo, “poderiam muito bem ter sido escritas por um louco, (mas) não transmitem uma sensação de falsidade”. Ao manter os preceitos de seu mundo particular, os contos se assemelham, em sua integridade, a uma pintura japonesa, isto é, dentro de sua própria lógica, convencem. Para o autor de 1984, Swift era um pessimista reacionário que retratava a humanidade de forma deplorável. No entanto, apesar das ideias e intenções de seu autor, Viagens de Gulliver é um grande livro. A explicação de Orwell: Jonathan Swift pinçou um aspecto da verdade humana, um apenas, e o desenvolveu literariamente com dois componentes fundamentais, talento e convicção.
Alguns desses escritores mudaram o mundo? De forma definitiva, com certeza não. Mas a inutilidade de sua arte deve ter sido útil de alguma forma. Pela ousadia, pela qualidade estética e pela convicção com que suas obras foram escritas.
P.S. Este post se baseou, entre outros, nos ensaios de Orwell que fazem parte de Dentro da baleia; no prefácio de Otavio Frias Filho para a antologia de Arthur Miller, A morte de um caixeiro-viajante e outras 4 peças; e na entrevista de Nuccio Ordine a respeito de seu livro recém-publicado pela editora Zahar, A utilidade do inútil, cuja leitura ainda pretendo realizar.
* * * * *
Luiz Schwarcz é editor da Companhia das Letras e autor de Linguagem de sinais, entre outros. Escreve pra o blog uma coluna semanal sobre livros e o trabalho editorial.
Fonte: http://www.blogdacompanhia.com.br/2...da-escrita-entre-dois-millers-arthur-e-henry/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A arte de não se engajar — ou no meio do caminho tem uma concessão
4 maio 2016, 11:30 am
Por Luiz Schwarcz
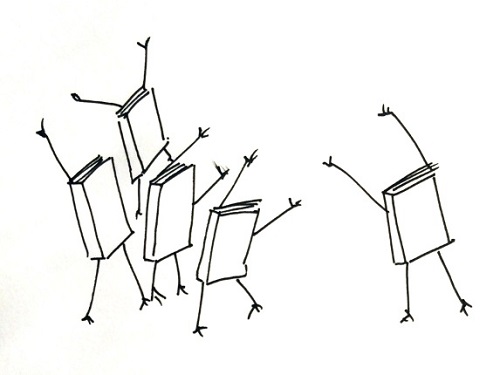
Ilustração: Alceu Chiesorin Nunes
Se o engajamento dos escritores transformando a literatura em instrumento político imediatista gera danos ao trabalho artístico — como comentei em meu post chamado Literatura sem missão —, os editores que procuram usar suas editoras como partidos políticos causam efeito igualmente destrutivo sobre a linha editorial de suas empresas. Assim como a literatura sofre quando subjugada a um propósito de curto prazo, uma “casa de edições” que abrigue só uma opinião também tem sua linha empobrecida.
Pautar edições como uma linha monocórdica de argumentos faz com que as editoras se assemelhem a muitos compositores minimalistas contemporâneos — que são minimalistas por terem pouco a dizer com sua música.
Houve um tempo em que as editoras que atuavam nas áreas de ciências sociais no Brasil constituíam um polo importante de luta pela liberdade de expressão — naquela época, tal batalha confundia-se diretamente com a luta contra o regime militar. Nesse contexto, a atuação política direta se justificava, pois a literatura e a cultura precisam sempre de liberdade para existirem com plenitude.
A luta política era um imperativo para que o mercado editorial pudesse existir, e a luta campal na esfera das ideias se travava também no sentido de publicar o que desafiava a lei, já que os jornais trabalhavam com um censor dentro das redações, enquanto que as editoras não. Era preciso abrir o campo para o pensamento de esquerda, proscrito pelo regime.
Mesmo assim, no caso da literatura, os bons livros nunca surgem para atender a uma atitude política dos editores, não podem ser pensados como manifestos. A literatura não combina com os manuais, morre ao ser escrita com visão imediatista. Assim, as publicações de não ficção de editoras como Civilização Brasileira, Zahar, Brasiliense, Paz e Terra eram majoritariamente de esquerda, mas era lá que se encontrava boa parte do pensamento vivo brasileiro.
A Companhia das Letras nasceu em 1986, com o regime democrático brasileiro engatinhando e a presidência ocupada por um civil. O presidente em exercício era José Sarney, cujo destino de vice-presidente e representante das forças do passado, num governo ainda eleito indiretamente, foi transformado devido à doença fatal de Tancredo Neves, que morreu antes de assumir o posto. Nesse sentido, quando a Companhia surgiu, a luta pela liberdade de expressão estava parcialmente ganha e, com as portas já abertas pelos editores pioneiros acima citados, foi mais fácil à jovem editora se estabelecer, já num ambiente de liberdade civil e política asseguradas.
Assim, foi natural equilibrar as edições da Companhia das Letras, descolá-las de minhas opções políticas pessoais e me apresentar ideologicamente a favor dos direitos individuais quando necessário. Com a liberdade recém-conquistada, me senti à vontade para editar autores de todos os matizes ideológicos. Com grande gosto publiquei livros de pensadores chamados “liberais” e também dos considerados “conservadores”, o que não era tão comum na época. Parece uma estupidez, e talvez de fato tenha sido, mas poucos editavam o pensamento considerado de “direita” ou “não progressista”. O fato de esse tipo de consideração até soar estranho hoje em dia é tanto um bom sinal dos tempos em que vivemos como um reforço para minha argumentação.
O mercado de ideias tinha, então, sua principal influência na França — no pensamento marxista nas ciências sociais, e nas ideias de Lacan e de psicólogos libertários na psicanálise. Com isso, também os livros de não ficção tinham a pior influência literária possível. Sem entrar no mérito do conteúdo exposto nesses trabalhos, eles eram, em minha opinião, insuportavelmente chatos e contraditórios em relação aos seus ideais. Advogavam uma posição política democrática, mas eram escritos por poucos e para poucos. Foi tranquila, portanto, a minha opção pela não ficção anglo-saxã, mais eclética politicamente e muito mais bem escrita. Para uma editora que se pretendia literária, até mesmo em livros de não ficção, afastar-se da França foi o caminho acertado para tornar a alta cultura mais acessível ao público leitor brasileiro. É claro que essas generalizações são complicadas e há sempre exceções, como alguns historiadores inovadores franceses que incluíram a narrativa cotidiana em seu repertório, ou mesmo filósofos como Michel Foucault, um estilista da língua, bastante repetitivo, até porque procurava reescrever seus exemplos, cada vez em formato literário mais elaborado e diverso. No entanto os pensadores anglo-saxões como, Edmund Wilson, Christopher Hill, George Steiner e Raymond Williams, entre tantos outros, em minha opinião, davam aulas de literatura ao escrever não ficção. Não foi uma escolha política — e sim literária, ou até mercadológica —, mas de alguma forma até poderia ter sido. Pois a literatura bem exercida pode até democratizar a leitura e, na minha opinião, essa era uma boa lição para o pensamento libertário daqueles tempos: ao procurar expor ideias de forma mais clara e límpida, mais artística talvez, o escritor naturalmente consegue alcançar um maior número de leitores. Para os que me acusaram de elitista ao criar a Companhia — e houve um importante editor que o fez —, eu respondi com livros bem escritos.
A luta mais certeira, da qual nós editores não podemos escapar, é a da liberdade de expressão, associada eventualmente à defesa da qualidade literária. Nossa causa maior e mais defensável é a de abrir nossas casas para todos os tipos de autores e promover um debate o mais amplo possível, para que a criação artística e o debate intelectual tenham liberdade e multiplicidade de opiniões. Mas se muitos pensam que a censura governamental ou o cerceamento da criatividade artística são típicos do Brasil, ou de países sem tradição democrática consolidada, é bom saber que a história do mundo editorial está muito mais recheada de atos de proibição — e do consequente engajamento fundamental dos editores na luta pela liberdade artística e de pensamento — do que imaginamos.
No post em que falei sobre Max Perkins mencionei o quanto esse editor trabalhou como negociador frente a seus autores, no sentido de evitar a censura interna da empresa onde trabalhava, ou o banimento moral e jurídico imposto a livros no começo do século XX. Teria Perkins cerceado a liberdade de Fitzgerald ou de Hemingway ao realizar tal negociação? A questão é cabeluda e pode gerar discussões extensas. Usando um exemplo paralelo, fora da esfera literária propriamente dita, as artimanhas de artistas como Dimitri Shostakovich frente à censura na União Soviética sempre foram mais complexas do que podem parecer à primeira vista. Há críticas violentas ao compositor, por ter se subjugado à pressão do estado soviético, mas poucos daqueles que o criticaram estiveram na pele de quem precisa criar e viver de sua arte. Muitos estudos apontam que Shostakovich, mesmo tendo publicamente representado o seu país, sido admoestado por isso e feito inúmeras e humilhantes autocríticas, inseriu em sua música, através de linguagem artística sofisticada, ironias e contestações ao realismo socialista. É fácil criar vilões ou heróis, mas o melhor mesmo é entender os caminhos possíveis de um artista, de um escritor, ou até mesmo de um editor, na luta pela liberdade de expressão. No meio do caminho tem uma concessão, tem uma concessão no meio do caminho.
P.s.: Voltarei ao tema desta coluna na próxima semana.
* * * * *
Luiz Schwarcz é editor da Companhia das Letras e autor de Linguagem de sinais, entre outros. Escreve pra o blog uma coluna semanal sobre livros e o trabalho editorial.
Fonte: http://www.blogdacompanhia.com.br/2...ajar-ou-no-meio-do-caminho-tem-uma-concessao/
20 abril 2016, 11:31 am
Por Luiz Schwarcz

Lee J. Cobb, Arthur Kennedy e Mildred Dunnock na montagem de A morte de um caixeiro-viajante, de Arthur Miller, em 1949. Crédito: Shields Collection.
A frase “Escrever (ou o Teatro) vai salvar o mundo”, atribuída a Arthur Miller, não me sai da cabeça. No momento, estou lendo uma biografia de Miller para saber o contexto em que ela foi dita, e como, algum tempo depois, o grande teatrólogo americano a teria renegado, ou melhor, se mostrado mais descrente com relação a ela. Quem sabe ao chegar ao final desta crônica terei mais respostas, ou ao menos indícios.
Enquanto isso, lembro-me de outra questão, bem mais simples, que me foi colocada há muitos anos por um jornalista, do qual já não lembro mais o nome. O grande fenômeno editorial na ocasião eram os livros de autoajuda de Lair Ribeiro, autor que veio depois de Paulo Coelho e causou um novo estouro de vendas nas livrarias. Fui então selecionado pelo jornalista como a voz naturalmente contrária a esse tipo de livro na versão “made in Brazil”. Surpreendi meu entrevistador, porém, recusando-me a desempenhar tal papel.
Também não sou um defensor radical da frase de Monteiro Lobato que afirma “todo livro lido é um bom livro”. São compreensíveis as razões de Lobato, que a proferiu num contexto em que as editoras lutavam, ainda mais do que hoje, contra o analfabetismo e o desconhecimento da população com relação ao valor da leitura. No entanto, levada ao extremo, essa definição tira do leitor a capacidade de julgar, de não gostar do que leu, de contrapor suas ideias às do autor, de alocar sua fantasia no lugar de outra. Como disse são compreensíveis as razões de Lobato, mas a sua frase deve ser enunciada com cuidado, sem perder o senso crítico.
De toda maneira, ao ser perguntado se era contra livros de autoajuda, afirmei sem pestanejar, não! Emendei dizendo que, em minha opinião, todo livro é no fundo um livro de autoajuda. De Drummond a Lair Ribeiro, todos os livros lidos, mesmo que não necessariamente bons, são de autoajuda. Apenas possuem pretensões diferentes. Alguns desejam mudar o mundo e os seus leitores rapidamente, outros lentamente. E há os que nem pretendem mudar nada, mas talvez sejam os mais bem-sucedidos nesse quesito. Por vezes são os que têm maior influência no ser humano e na vida social — os textos escritos como se o escritor fosse um Jonas vivendo dentro da baleia, sem espectro ou pretensão de ação social possível.
A missão de um livro de autoajuda seria de muito mais curto prazo do que um livro de literatura sofisticada; a voz do autor desses livros vem imbuída de mais autoridade e pretensão. Mas isso não basta para caracterizar esses trabalhos como bons ou ruins, assim como a frase de Lobato tira do verdadeiro juiz seu poder de julgamento. Quem decide se um livro é bom ou ruim, em primeira e última instância, é o leitor; sendo o crítico literário apenas um leitor que em princípio milita na mesma área que o autor — estudou literatura ou jornalismo, e por isso atua em espaços públicos de leitura. Podemos opinar sobre a perenidade de um livro e assim qualificar como mais importantes aqueles que ficam em nossas mentes por um tempo maior, mas não julgar sua qualidade no lugar do leitor(a).
Quanto à literatura com missão política ou de engajamento, aquela que sai da cabeça do escritor com a vontade explícita de mudar o mundo a curto prazo, dedico a ela um bom punhado de dúvidas. Não creio que as grandes peças ou contos de Arthur Miller tenham sido escritos com esse fim imediato. A frase teria sido do começo de sua carreira, e traz um compromisso tanto social quanto moral. Segundo ele, o teatro teria mais capacidade de salvar a sociedade do que a medicina — uma vez que coloca questões morais fundamentais e, assim, promove futuras mudanças sociais. O teatrólogo americano, filho de imigrantes judeus, foi marxista e militante durante parte de sua carreira, mesmo sem ter se filiado a partidos políticos. No entanto, suas grandes obras não eram de puro proselitismo. Ultrapassavam em muito esse propósito. O pai de Arthur Miller era analfabeto e foi abandonado pela família na Europa dos pogroms, tendo chegado à América depois de todos os irmãos. Mesmo assim, conseguiu enriquecer, para depois perder tudo, com a grande depressão. Nunca leu sequer uma carta do filho. Talvez por isso Miller acreditava tanto na magia do palco, da interação entre o espectador e os atores. Dizia que “o peixe está na água, mas a água está no peixe” e devotava ao momento da representação uma crença tão forte quanto às mudanças que julgava ideais para a sociedade. Em uma entrevista dada à New Yorker em 1999, seis anos antes de falecer, num momento que já renegava ou relativizava a famosa frase que inicia esta crônica, ele relata que Willy Loman — o caixeiro-viajante que com o tempo não consegue vender mais nada e acaba se suicidando — não teria sido inspirado em um tio seu, ou em seu pai, como se costumava dizer. Mas é difícil de acreditar. Os dois perderam tudo com o crack da bolsa de Nova York e foram obrigados a se mudar de Manhattan para o Brooklyn, onde Miller passou parte da infância.
A obra de Miller sem dúvida foi muito afetada por sua relação com o pai, assim como pelos eventos familiares. Na entrevista Miller despista, dizendo que para criar Loman teria se baseado em um amigo, Manny Newman, um sonhador que sempre acabava perdendo, tendo seus “dedos constantemente pisados pela engrenagem social”. O amigo que acabou se suicidando pode ter feito parte do caldo que criou o personagem na cabeça de Miller, mas não foi sua única inspiração. Na mesma entrevista o escritor se lembra de um empresário da Filadélfia, Bernard Gimbel, que, tendo estado na estreia de A morte de um caixeiro-viajante, de lá saiu e, dias depois, proibiu que pessoas fossem demitidas de suas lojas em razão da idade.
Será que essa pequena atitude poderia contar a favor da frase que inicia meu texto? Teria Miller — já num período de descrença com a militância de esquerda — achado que por conta de atitudes como a de Gimbel, A morte de um caixeiro-viajante de fato teria mudado o mundo? O mundo de alguns, ao menos, mesmo que não o de todos?
Hoje me pergunto se a arte — por ter retratado a humanidade, com suas grandezas e suas vilanias, durante séculos — não poderia ser considerada como uma das mães dos movimentos sociais? Seria a luta de hoje por direitos humanos a mesma sem a representação que o ser humano fez de si próprio através dos tempos? Sem defender a pretensão revolucionária da arte, pergunto-me: de quantos encontros como o de Willy Loman com Bernard Gimbel se fez a história do teatro? A crença em si ou a vontade de mudar o mundo não prejudicam a literatura, desde que o autor não pense em resultados imediatos. Desde que a realização da obra ganhe total independência formal e de conteúdo em relação a propósitos políticos ou sociais. Boas intenções não resultam necessariamente em bons livros. Em muitos casos chegam a atrapalhar.
George Orwell, um escritor tão engajado quanto polêmico, tratou muito dessas questões em seus ensaios. Disse que toda arte é propaganda, que nunca sentou para escrever um livro sem que existisse, como fonte de inspiração, uma mentira que quisesse desvendar. No entanto, reafirmou que sem a experiência estética nada do que desejava fazer teria adquirido qualquer sentido. Orwell afirmou diversas vezes que ao escrever era obrigado a abandonar o foco inicial de seu trabalho e se alongar em assuntos politicamente irrelevantes. E que suas obras eram feitas em igual medida do que queria desvendar e dos aspectos menores que apareciam no meio do caminho.
O escritor de A revolução dos bichos realizou grandes ensaios, elogiando autores completamente diferentes dele. Admirava profundamente o primeiro livro de Henry Miller, Trópico de câncer, que teria sido escrito sem propósito político algum, apenas para retratar “parasitas americanos mendigando tragos no Quartier Latin”. Dizia que a força de Miller, ou de Joyce, vinha do não engajamento desses grandes narradores. Por conta disso é que os dois conseguiram retratar tão bem o homem comum. Henry Miller, segundo Orwell, era um pacifista radical, um militante do não engajamento. Foi um Jonas que se beneficiou por estar dentro da baleia. Aldous Huxley se queixava dos escritores e artistas que se refugiavam dessa forma. Achava a barriga da baleia um lugar triste e perigoso. Orwell, que optou sempre por lutar contra baleias invencíveis, argumentou que Joyce e Henry Miller fizeram obras maiores, claramente optando por não militar politicamente. São autores que, segundo Orwell, produziram sem medo. Um dado fundamental, segundo ele, para realizar um grande livro.
É curioso o sincero elogio de Orwell a escritores com ideais e princípios que ele mesmo considerava abomináveis. Para Orwell, Jonathan Swift, assim como Edgar Allan Poe em menor medida, seriam pessoas cujas visões de mundo podiam ser absurdas e falsas. Algumas narrativas de Poe, por exemplo, “poderiam muito bem ter sido escritas por um louco, (mas) não transmitem uma sensação de falsidade”. Ao manter os preceitos de seu mundo particular, os contos se assemelham, em sua integridade, a uma pintura japonesa, isto é, dentro de sua própria lógica, convencem. Para o autor de 1984, Swift era um pessimista reacionário que retratava a humanidade de forma deplorável. No entanto, apesar das ideias e intenções de seu autor, Viagens de Gulliver é um grande livro. A explicação de Orwell: Jonathan Swift pinçou um aspecto da verdade humana, um apenas, e o desenvolveu literariamente com dois componentes fundamentais, talento e convicção.
Alguns desses escritores mudaram o mundo? De forma definitiva, com certeza não. Mas a inutilidade de sua arte deve ter sido útil de alguma forma. Pela ousadia, pela qualidade estética e pela convicção com que suas obras foram escritas.
P.S. Este post se baseou, entre outros, nos ensaios de Orwell que fazem parte de Dentro da baleia; no prefácio de Otavio Frias Filho para a antologia de Arthur Miller, A morte de um caixeiro-viajante e outras 4 peças; e na entrevista de Nuccio Ordine a respeito de seu livro recém-publicado pela editora Zahar, A utilidade do inútil, cuja leitura ainda pretendo realizar.
* * * * *
Luiz Schwarcz é editor da Companhia das Letras e autor de Linguagem de sinais, entre outros. Escreve pra o blog uma coluna semanal sobre livros e o trabalho editorial.
Fonte: http://www.blogdacompanhia.com.br/2...da-escrita-entre-dois-millers-arthur-e-henry/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A arte de não se engajar — ou no meio do caminho tem uma concessão
4 maio 2016, 11:30 am
Por Luiz Schwarcz
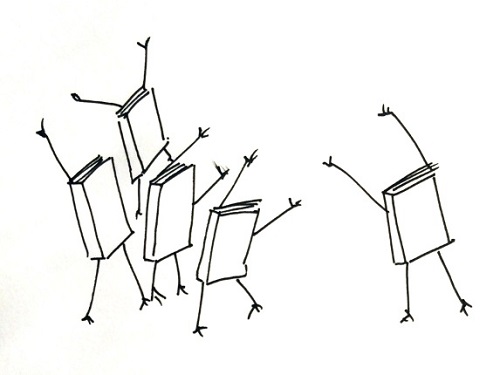
Ilustração: Alceu Chiesorin Nunes
Se o engajamento dos escritores transformando a literatura em instrumento político imediatista gera danos ao trabalho artístico — como comentei em meu post chamado Literatura sem missão —, os editores que procuram usar suas editoras como partidos políticos causam efeito igualmente destrutivo sobre a linha editorial de suas empresas. Assim como a literatura sofre quando subjugada a um propósito de curto prazo, uma “casa de edições” que abrigue só uma opinião também tem sua linha empobrecida.
Pautar edições como uma linha monocórdica de argumentos faz com que as editoras se assemelhem a muitos compositores minimalistas contemporâneos — que são minimalistas por terem pouco a dizer com sua música.
Houve um tempo em que as editoras que atuavam nas áreas de ciências sociais no Brasil constituíam um polo importante de luta pela liberdade de expressão — naquela época, tal batalha confundia-se diretamente com a luta contra o regime militar. Nesse contexto, a atuação política direta se justificava, pois a literatura e a cultura precisam sempre de liberdade para existirem com plenitude.
A luta política era um imperativo para que o mercado editorial pudesse existir, e a luta campal na esfera das ideias se travava também no sentido de publicar o que desafiava a lei, já que os jornais trabalhavam com um censor dentro das redações, enquanto que as editoras não. Era preciso abrir o campo para o pensamento de esquerda, proscrito pelo regime.
Mesmo assim, no caso da literatura, os bons livros nunca surgem para atender a uma atitude política dos editores, não podem ser pensados como manifestos. A literatura não combina com os manuais, morre ao ser escrita com visão imediatista. Assim, as publicações de não ficção de editoras como Civilização Brasileira, Zahar, Brasiliense, Paz e Terra eram majoritariamente de esquerda, mas era lá que se encontrava boa parte do pensamento vivo brasileiro.
A Companhia das Letras nasceu em 1986, com o regime democrático brasileiro engatinhando e a presidência ocupada por um civil. O presidente em exercício era José Sarney, cujo destino de vice-presidente e representante das forças do passado, num governo ainda eleito indiretamente, foi transformado devido à doença fatal de Tancredo Neves, que morreu antes de assumir o posto. Nesse sentido, quando a Companhia surgiu, a luta pela liberdade de expressão estava parcialmente ganha e, com as portas já abertas pelos editores pioneiros acima citados, foi mais fácil à jovem editora se estabelecer, já num ambiente de liberdade civil e política asseguradas.
Assim, foi natural equilibrar as edições da Companhia das Letras, descolá-las de minhas opções políticas pessoais e me apresentar ideologicamente a favor dos direitos individuais quando necessário. Com a liberdade recém-conquistada, me senti à vontade para editar autores de todos os matizes ideológicos. Com grande gosto publiquei livros de pensadores chamados “liberais” e também dos considerados “conservadores”, o que não era tão comum na época. Parece uma estupidez, e talvez de fato tenha sido, mas poucos editavam o pensamento considerado de “direita” ou “não progressista”. O fato de esse tipo de consideração até soar estranho hoje em dia é tanto um bom sinal dos tempos em que vivemos como um reforço para minha argumentação.
O mercado de ideias tinha, então, sua principal influência na França — no pensamento marxista nas ciências sociais, e nas ideias de Lacan e de psicólogos libertários na psicanálise. Com isso, também os livros de não ficção tinham a pior influência literária possível. Sem entrar no mérito do conteúdo exposto nesses trabalhos, eles eram, em minha opinião, insuportavelmente chatos e contraditórios em relação aos seus ideais. Advogavam uma posição política democrática, mas eram escritos por poucos e para poucos. Foi tranquila, portanto, a minha opção pela não ficção anglo-saxã, mais eclética politicamente e muito mais bem escrita. Para uma editora que se pretendia literária, até mesmo em livros de não ficção, afastar-se da França foi o caminho acertado para tornar a alta cultura mais acessível ao público leitor brasileiro. É claro que essas generalizações são complicadas e há sempre exceções, como alguns historiadores inovadores franceses que incluíram a narrativa cotidiana em seu repertório, ou mesmo filósofos como Michel Foucault, um estilista da língua, bastante repetitivo, até porque procurava reescrever seus exemplos, cada vez em formato literário mais elaborado e diverso. No entanto os pensadores anglo-saxões como, Edmund Wilson, Christopher Hill, George Steiner e Raymond Williams, entre tantos outros, em minha opinião, davam aulas de literatura ao escrever não ficção. Não foi uma escolha política — e sim literária, ou até mercadológica —, mas de alguma forma até poderia ter sido. Pois a literatura bem exercida pode até democratizar a leitura e, na minha opinião, essa era uma boa lição para o pensamento libertário daqueles tempos: ao procurar expor ideias de forma mais clara e límpida, mais artística talvez, o escritor naturalmente consegue alcançar um maior número de leitores. Para os que me acusaram de elitista ao criar a Companhia — e houve um importante editor que o fez —, eu respondi com livros bem escritos.
A luta mais certeira, da qual nós editores não podemos escapar, é a da liberdade de expressão, associada eventualmente à defesa da qualidade literária. Nossa causa maior e mais defensável é a de abrir nossas casas para todos os tipos de autores e promover um debate o mais amplo possível, para que a criação artística e o debate intelectual tenham liberdade e multiplicidade de opiniões. Mas se muitos pensam que a censura governamental ou o cerceamento da criatividade artística são típicos do Brasil, ou de países sem tradição democrática consolidada, é bom saber que a história do mundo editorial está muito mais recheada de atos de proibição — e do consequente engajamento fundamental dos editores na luta pela liberdade artística e de pensamento — do que imaginamos.
No post em que falei sobre Max Perkins mencionei o quanto esse editor trabalhou como negociador frente a seus autores, no sentido de evitar a censura interna da empresa onde trabalhava, ou o banimento moral e jurídico imposto a livros no começo do século XX. Teria Perkins cerceado a liberdade de Fitzgerald ou de Hemingway ao realizar tal negociação? A questão é cabeluda e pode gerar discussões extensas. Usando um exemplo paralelo, fora da esfera literária propriamente dita, as artimanhas de artistas como Dimitri Shostakovich frente à censura na União Soviética sempre foram mais complexas do que podem parecer à primeira vista. Há críticas violentas ao compositor, por ter se subjugado à pressão do estado soviético, mas poucos daqueles que o criticaram estiveram na pele de quem precisa criar e viver de sua arte. Muitos estudos apontam que Shostakovich, mesmo tendo publicamente representado o seu país, sido admoestado por isso e feito inúmeras e humilhantes autocríticas, inseriu em sua música, através de linguagem artística sofisticada, ironias e contestações ao realismo socialista. É fácil criar vilões ou heróis, mas o melhor mesmo é entender os caminhos possíveis de um artista, de um escritor, ou até mesmo de um editor, na luta pela liberdade de expressão. No meio do caminho tem uma concessão, tem uma concessão no meio do caminho.
P.s.: Voltarei ao tema desta coluna na próxima semana.
* * * * *
Luiz Schwarcz é editor da Companhia das Letras e autor de Linguagem de sinais, entre outros. Escreve pra o blog uma coluna semanal sobre livros e o trabalho editorial.
Fonte: http://www.blogdacompanhia.com.br/2...ajar-ou-no-meio-do-caminho-tem-uma-concessao/
